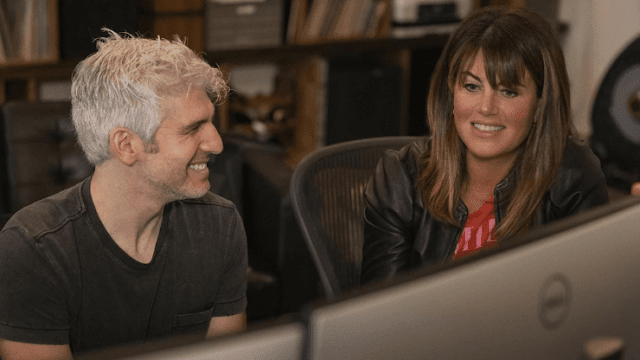Quem me conhece um pouquinho sabe que eu evito, como o diabo foge da cruz ou o vampiro da luz, filmes de drama, especialmente os que envolvam doenças. Meu pobre coração não aguenta, sofro demais, provavelmente por ter visto os dramas dos anos 90 que minha mãe me obrigava. Talvez até já tenha comentado sobre isso por aqui, mas hoje, justamente, me aconteceu isso, estando sozinha e quase sem perceber. Não me arrependi.
Robert Downey Jr., esse imenso ator que muita gente conhece, é filho de um diretor de cinema independente, Robert Downey Sr.. Acompanhando a idade avançada do pai e suas questões de saúde, Jr., resolve fazer filme com e sobre o Sr., em uma combinação de olhares dos dois artistas.
Fui pega de surpresa, vi o teaser na Netflix, é leve e tem um humor gostoso que me tomou de vez, nem li a sinopse. Ao mesmo tempo, ele traz um dos grandes temas que gosto de ler, ver, conhecer, conviver: a família. Documentários sobre famílias ou pessoas no contexto familiar podem parecer egocêntricos, mas há algo que sempre nos aproxima deles. Acredito que sejam as excentricidades, as experiências de vida, as histórias das famílias e, acho que mais do que tudo, essa intimidade e ternura genuínas que costumam abraçar obras do gênero. Neste caso, um filme de um grande ator sobre um grande diretor, de início, pode parecer distante de nossa realidade, mas é muito mais próximo de nós do que imaginaríamos.
Aqui vemos Robert Downey Sr., o diretor de comédias underground, um artista que eu não conhecia e que vou buscar seus filmes. Os trechos deles aparecem e contêm um humor ácido, crítico e, ao mesmo tempo, inocente que percorre a família, o mesmo que me pegou no teaser. Vemos o interesse e intenção de Robert Downey Jr. em se aproximar ainda mais do pai, com o carinho, a paciência e muito amor, enquanto se mostra como filho e também pai ao trazer seu filho para a câmera. É possível ver também, como um corte, uma tentativa de evitar expressões maiores de dor pela perda iminente, ainda que não tenha se imiscuído delas. Ele trouxe o sentimento na forma de nostalgia e em reflexões leves e que cabem a todos nós e, talvez por isso, o diretor que os acompanhou tenha escolhido o preto-e-branco na fotografia.
À medida que o filme avançava, eu ficava dividida entre estar amando assistí-lo e sofrer ao já prever um pouco o final, como se fizesse parte daquela narrativa. Esse é o grande trunfo das boas histórias, elas nos transportam e nos fazem viver outros mundos, pessoas, experiências. Fiquei presa, talvez pela empatia e pela certeza de que todos teremos um fim, como os próprios filmes.
O fato é: Robert Downey Jr. traz uma obra leve, terna e com muita vida, como se o próprio ator quisesse revisitar partes dele no futuro, rememorando a história de seu pai e de seu filho naquele período, como um acalento. Além da questão íntima e familiar, o filme nos enriquece mostrando a grandiosidade de uma cinematografia que poucos conhecem, mas cujas referências e influências se veem nos filmes de estúdio. Não é um filme sobre cinema, mas, nesta família, ele está em todo lugar, tentando dar conta de partes de uma vida infinita, com suas tragédias e comédias e nos estimulando a conhecer mais sobre as obras destes extraordinários homens.
Uma lindeza para fechar esse fim de semana.
***
O Café está em constante e parcimoniosa atualização. Em breve, volto com novidades. Para contribuir e deixar este lugar ainda mais aconchegante, dá uma passada no buy me a coffee. Por muito pouco, se faz muita diferença ;)